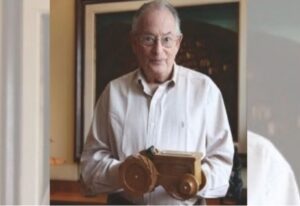Era o ano de 1993 quando “Guerra sem fim” estreou na hoje extinta TV Manchete. O folhetim tornou conhecido um ator que já dizia a que viera. O artista em questão era Alexandre Borges. Então com 27 anos, não tardou para ele cair nas graças do público e tornar-se um dos talentos mais requisitados da sua geração. Prova disso está nos diferentes tipos criados para a TV, veículo no qual atua há 30 anos. Sim, como naquele jingle, o tempo passa, voa, e o ator celebra quatro décadas de carreira voltando ao habitat onde forjou sua persona artística: o palco. E com um clássico de Samuel Beckett (1906-1989). Alexandre traz ao Rio “Esperando Godot”, que marca também sua volta ao Oficina e na qual foi novamente (e derradeiramente) dirigido por José Celso Martinez Corrêa (1937-2023), um dos maiores nomes do teatro brasileiro. O espetáculo aporta no recém-inaugurado Teatro Carlos Gomes, Centro do Rio, para curta temporada até 08 de dezembro. “O Zé me ajudou a descobrir o sentido desta carreira que escolhi”, reconhece Alexandre, por telefone, nesta entrevista ao NEW MAG. A seguir, o ator fala sobre amadurecimento, aplaude o reconhecimento de Fernanda Torres, saúda a abertura da TV à Diversidade e defende o uso parcimonioso dos gadgets tecnológicos.
Você trabalhou com Zé Celso em “Hamlet” em 1993, e o reencontrou quase 30 anos depois, com outro clássico. O que cada uma dessas experiências te trouxe de novo?
Trabalhar com Zé Celso foi um privilégio. Aprendi muito com ele. Além de um diretor completo, ele criou um grupo que é um dos mais longevos do país. Ele foi um cara que se dedicou ao teatro full time. Trabalhei com ele em duas situações, e todas elas foram muito representativas. Na primeira vez, ele me ajudou a descobrir o sentido desta carreira que escolhi, e isso foi corroborado nesse reencontro com ele. A vontade de encenar o Godot me acompanha há muito tempo e sempre soube que ela se realizaria em algum momento, e o momento é agora quando celebro 40 anos de carreira.
Entre a sua primeira aparição na TV e a ida à Globo você se tornou um dos atores mais requisitados da sua geração. Como foi lidar com esse assédio?
Cheguei na TV vindo do teatro, numa época em que a TV aberta dava as cartas, e fui me surpreendendo com as possibilidades que ela oferecia. Não esperava ficar 30 anos na TV, e isso é para mim uma surpresa grande. A profissão do ator é imprevisível, e a TV me deu uma estabilidade maior na carreira, o que me possibilitou produzir trabalhos no teatro e no cinema. Sem falar nas outras oportunidades que a visibilidade te dá como a de fazer campanhas publicitárias, por exemplo. A TV me possibilitou também trabalhar com atores da chamada Geração de Ouro. Tive a alegria de contracenar algumas vezes com a Fernanda Montenegro e isso é um presente.
Falando nela, como vê o reconhecimento à atuação da Fernanda Torres em “Ainda estou aqui”?
Vibro muito com isso. A Fernanda é uma atriz muito carismática e merece todo esse reconhecimento. E o Walter (Salles) é um diretor talentosíssimo e fez um filme muito sensível. Sem falar do Marcelo (Rubens Paiva), um escritor incrível. “Feliz ano velho” foi um livro que me marcou muito. Meu pai militou nos anos 1970 e uma lembrança forte que tenho é a da foto do Rubens Paiva com a pomba no ombro. Essa é uma história que não pode ser esquecida.
Em “Um copo de cólera” o livro do Raduan Nassar está ali ipsis litteris. Com o que foi mais difícil de lidar: com a pujança do texto ou com o lirismo das cenas sensuais?
Eu vivi ali um processo semelhante ao que tive com o Beckett. O ator é uma ponte e ele precisa se apropriar daquelas ideias e se inserir naquele universo. E isso é utópico. Quanto mais você nada, mais você abre seu horizonte. Na época, conheci o Raduan, li sua obra, e Julia (Lemmertz) e eu fomos coprodutores do filme com o Aloizio (Abranches), que o dirigiu com muita sensibilidade. Chamamos a Angel Viana para dirigir as cenas de sexo, que acabaram mais comentadas do que o filme em si (risos)…
Bacana falar da Angel pois há uma coreografia ali, em momentos como quando você levanta o lençol…
Sim, tudo ali foi completamente desafiador. O texto tinha uma pujança que não permitia improvisos. Não foi um trabalho naturalista como o da TV. Hoje tenho mais vivência e estofo de vida e teria me aproximado daquele personagem com mais propriedade.
Seu personagem em “As filhas da mãe” envolve-se com uma personagem trans, interpretada por Claudia Raia, uma mulher cis. Como vê a ascensão na TV de artistas trans como Valéria Barcelos e Gabriela Medeiros?
Acho fundamental. A nossa sociedade é lenta e demora a se dar conta sobre questões que precisam ser aprimoradas. E isso está relacionado a questões de Justiça e Igualdade. A TV é também educativa e precisa, por isso, ser representativa. E tem de ser abrangente em todas as circunstâncias.
Você teve oportunidade de trabalhar, como diretor, com o Dedé Santana. Como foi esse processo para você?
Foi a mesma sensação provocada pelo trabalho com o Zé Celso: a de ver aquele artista de oitenta e tantos anos com uma entrega invejável àquele trabalho, e isso me impressionou muito. Foi bonito ver a disposição dele de estar ali, de viajar com o espetáculo porque a vida do artista vai além do palco. Você viaja, acorda cedo, perde o voo… O Dedé é um artista à serviço do público. Ele ainda é, aos 88 anos, um palhaço de circo, e isso é muito bonito.
Você aderiu tardiamente ao instagram e, assim como a Glória Pires, não usa whatsapp… É possível impor seu ritmo num tempo em que a noção de urgência está relativizada?
Bom, são dois pontos: um é o instagram. Estávamos na pandemia quando decidi entrar. Minha mãe estava enfrentando o Alzheimer e vi ali uma forma de me reconectar com as pessoas. Aproveitei para falar do Alzheimer e estabeleci também uma parceria com a Cufa (Central Única das Favelas) para a arrecadação de cestas básicas, e isso foi muito interessante. É claro que quando se tem poucos seguidores você consegue estabelecer uma relação de mão dupla com as pessoas. Agora, quando você passa de 5 mil para 20 mil, 60 mil, essa interação fica difícil…
E em relação ao whatsapp?
O whatsapp já esbarra numa questão relacionada a ansiedade dos dias de hoje. Quando o celular era usado como telefone, eu ia ensaiar, desligava o aparelho, ficava seis horas trabalhando e retornava as mensagens à noite ou no dia seguinte, quando era perfeitamente possível. Essa loucura de agora me aflige. Não tenho essa disponibilidade. Nós, atores, somos um pouco egoístas, mas o fato é que o artista precisa de concentração para o seu trabalho, e o uso da tecnologia precisa de parcimônia.
Crédito da imagem: Eny Miranda